
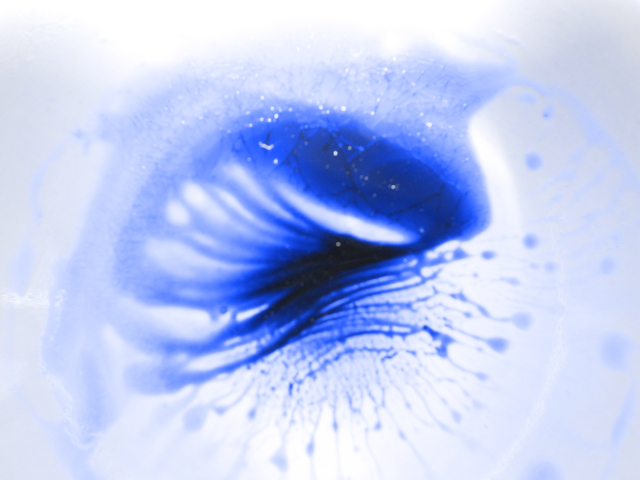
Limites do Direito devem garantir autonomia privada sem ceder a moralismo
Por Rodrigo da Cunha Pereira para Conjur
A família mudou tanto nas últimas décadas, que chegam a dizer que ela está em desordem. Em vários momentos históricos como a introdução da lei do divórcio no Brasil (1977), chegaram mesmo a proclamar o seu fim. Ainda bem que a família mudou e está sempre em mutação e transcende sua própria historicidade. Hoje ela está melhor, mais viva, mais verdadeira, mais livre e mais autêntica. Não precisamos ter medo. A família foi, é, e continuará, de uma forma ou de outra, sendo o núcleo essencial, formador e estruturador do sujeito em qualquer sociedade, tempo ou espaço.
Novas estruturas parentais e conjugais estão em curso, quer gostemos ou não, queiramos ou não. Famílias homoafetivas, simultâneas, poliafetivas, ectogenéticas, multiparentais e parcerias de paternidade (a reprodução está cada vez mais desatrelada da sexualidade e da conjugalidade) etc. Todas essas representações sociais de família eram inimagináveis algumas décadas atrás e hoje ainda causam surpresas e estranheza a muitas pessoas. É claro que ainda há lugar para as famílias tradicionais, assim como cabem no laço social e no ordenamento jurídico todas as outras, inclusive as que ainda virão, e que nem ainda imaginamos. E o Direito deve dar proteção a todas elas.
Relações conjugais consideradas ilegítimas, anormais e até imorais pela ordem jurídica tempos atrás, hoje são legítimas e já ganharam, ou vêm ganhando, ares de normalidade. É que o Direito é, também, um instrumento ideológico de inclusão e exclusão de pessoas e categorias do laço social. E foi assim que o Direito de Família, com base em uma ideologia patriarcal e uma moral sexual excluiu por muitos anos os filhos havidos fora do casamento, então denominados de ilegítimos. E foi assim que ele legitimou ou ilegitimou, com base na suposta superioridade masculina, o direito das mulheres de votarem, de o homem ser o chefe da sociedade conjugal, de se poder anular casamento quando a mulher não era virgem ao se casar, deserdar a mulher desonesta (não era a que não pagava suas contas em dia), isto é, que não tinha sua sexualidade controlada pelo pai ou pelo marido. Se a família tem se reinventado tanto, será que não é necessário colocar limites nessas reinvenções? Se estamos transpondo tantas barreiras e regras morais para incluir novas configurações familiares, isto seria ilimitado? É proibido proibir, ou tudo pode? A lei jurídica vem colocar limites em quem não o tem internamente. Mas qual é o limite?
O Direito é um sistema de freios, e contrafreios, para viabilizar o convívio social. Ele nasce, e permanece, para desinstalar o caos. Daí poder-se dizer que o Direito é uma sofisticada técnica de controle das pulsões. Utilizada por Freud pela primeira vez em 1905, pulsão, tornou-se um dos conceitos psicanalíticos fundamentais. Em 1920, em seu texto Mais além do princípio do prazer, e depois em 1933 em Novas conferências introdutórias sobre psicanálise, Freud desenvolveu o dualismo pulsional, com as ideias de pulsão de vida e pulsão de morte, que regem a nossa vida. As pulsões são forças que existem por trás das tensões geradoras de necessidades do sujeito. Ela vai além do instinto. As manifestações pulsionais constituem a energia vital do sujeito e está diretamente ligada à energia libidinal[1].
Se pulsão e desejo, que compõem e determinam a nossa estrutura psíquica, são ilimitados, a função do Direito deve ser exatamente colocar limites e barrar os excessos gozosos. Se meu desejo, e a minha sina, é querer sempre mais, o Direito, deve sim, cumprir sua função e não permitir que tudo possa. O “não” é necessário para viabilizar qualquer organização social e jurídica. Sem ele não haveria civilização ou sociabilidade. E é exatamente por isto que pagamos o preço do “mal estar da civilização” como tão bem já descreveu Freud, pois ele advém de nossas renúncias pulsionais, muitas vezes impostas pela lei jurídica, que traz sempre consigo um “não”.
Se admitirmos no sistema jurídico a simultaneidade de famílias ou a poliafetividade, por exemplo, estaríamos ultrapassando todos os limites éticos e jurídicos? Por que isto nos causa tanto horror e indignação a ponto de não tolerarmos ultrapassar essas barreiras morais? A sexualidade escapará sempre ao normatizável. Por isto haverá sempre variações e mutações conjugais. O limite que a família esbarra é em sua própria lei originária: o interdito proibitório do incesto. Aí não há relativização, e nem se trata de limite moral. É um limite ético, pois reside aí a lei fundante de qualquer sujeito: “A proibição do incesto não é nem puramente de origem cultural nem puramente de origem natural, e também não é uma dosagem de elementos variados tomados de empréstimo parcialmente à natureza e parcialmente à cultura. Constitui o passo fundamental graças ao qual, pelo qual, mas, sobretudo, no qual se realiza a passagem da natureza para a cultura”[2].
A dicotomia entre público e privado continua sendo uma das grandes questões para o Direito de Família. Até que ponto o Direito, e consequentemente o Estado Democrático de Direito, deve interferir na vida privada e proibir ou ilegitimar determinados tipos de família? A meu ver, o Estado só deveria intervir para garantir a autonomia privada. E isto não seria nenhum problema, se as novas formatações familiares não fossem perpassadas por conteúdos morais e religiosos e se essas convicções se limitassem às próprias religiões e não impusessem essa moral particular, ou de um determinado segmento, à toda população. Se ficasse cada um no seu quadrado poderíamos, de fato e de direito, termos um verdadeiro Estado laico, e a vida privada, autonomia e liberdade das pessoas estariam preservadas. Devemos respeitar todas as religiões, e levá-las a sério como um sistema simbólico que veicula verdades profundas da existência humana, apesar de todo mal que ainda se pratica em nome dela. Religião é bom para nos confortar diante de nossa finitude e desamparo estrutural. Ela passa a ser maléfica quando é deturpada para utilização de poderes políticos e econômicos, como tem acontecido no Brasil.
Os pessimistas, e os que pensam que estaremos de volta à barbárie, e promiscuidade inviabilizadora de uma organização social e jurídica, deveriam se perguntar o porquê desse incômodo, ou seja, porque uma família, conjugal ou parental, tão diferente da sua, causa tanto incômodo, e em quê isto afeta o direito alheio? Fernando Pessoa já sabia disto: “Mal é que a moral nos reja, / Bom é que ninguém nos veja; / Entre isso fica viver”. Famílias fora dos padrões convencionais não são preocupantes e nem imorais. Inadmissível e preocupante é a violência doméstica e as milhares de crianças invisíveis, depositadas em abrigos, e lá permanecem aprisionadas ao sistema burocrático, interesses escusos, interpretações legislativas equivocadas e perversas, desatenção dos órgãos públicos responsáveis para proporcionar-lhes uma família. Isto sim, é uma perversidade sem limite. Isto sim, é imoral.
[1] (cf. Rodrigo da Cunha in Dicionário Brasileiro de Direito de Família e Sucessões – Ilustrado. Ed. Saraiva, p. 604).[2] (STRAUSS, Claude. Estruturas Elementares do parentesco. Trad. Mariano Ferreira. Petrópolis: Vozes, 1982, p. 62).



